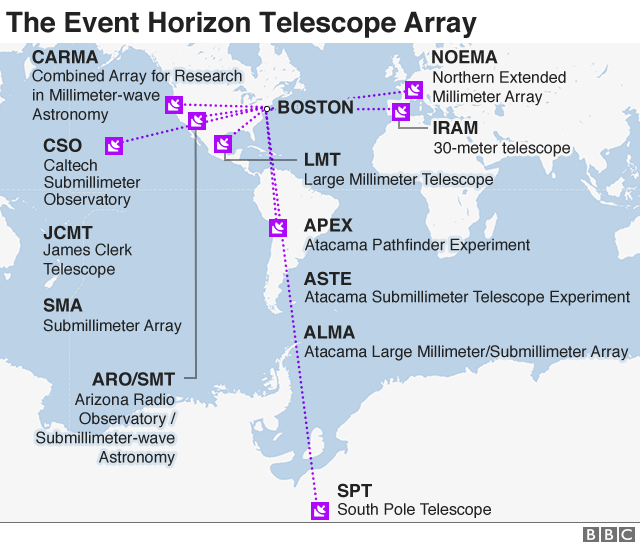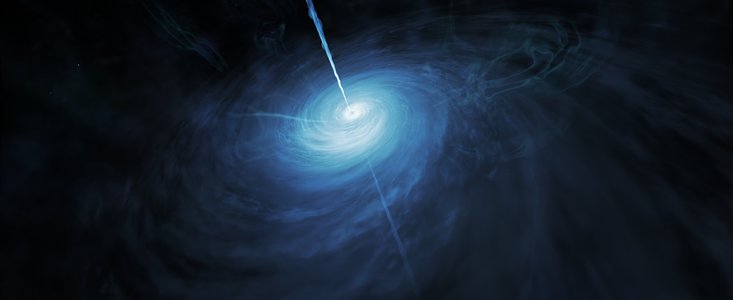Introdução
Imagine-se deitado na relva em uma agradável noite de outono. O céu está claro e, por sorte, é noite de Lua Nova. Quantas estrelas você veria? Com sorte, algo em torno de 6.000 (não que eu já tenha tido a paciência de contá-las). E já sabemos que cada uma delas é, por assim dizer, única e insubstituível; se não em cor e intensidade de brilho, propriedades intrínsecas, pelo menos em localização aparente e distância. E são as distâncias que as separam de nós as responsáveis por uma peculiaridade às vezes esquecida: vemo-nas como eram no passado.
Cada estrela que vemos é uma janela que se abre para o pretérito. E a exata época que vislumbramos nos é dada diretamente por sua distância, se medida em anos-luz (ou qualquer outra unidade do tipo “tempo”-luz. O Sol, por exemplo, está a oito minutos-luz de nós, portanto o vemos como era há oito minutos). Assim, podemos perscrutar o longínquo passado do Universo. Mas o que é o Universo?
Por sua própria origem, a palavra universo quer dizer “tudo junto”, “o todo”. Vem do latim, unus, um, e versus, particípio passado de vertere, girar. Seria, então, “aquilo que gira como um” (para os antigos, os objetos celestes giravam em torno da Terra). Esta definição é bastante importante para escaparmos de conceitos estranhos como “universo paralelo” e outros afins. Qualquer nova descoberta, física ou astronômica, teórica ou observacional, faz parte do Universo, pois ele é tudo. Só porque desconhecemos a existência de algo não podemos excluí-lo do Universo, uma arrogância sem tamanho.
Mas, lembre-se, estamos vislumbrando as estrelas. E se problemas semânticos sobre a palavra universo nos assolam, são logo deixados de lado. Mas se o Universo é tudo, e existe desde sempre, por que o céu noturno não nos aparece totalmente iluminado? Sim, pois sabemos que a luz das estrelas leva um certo tempo para nos atingir, seja ele 8 minutos ou 12 bilhões de anos. E se o Universo sempre existiu, por mais distante que as mais distantes estrelas se encontrem, sua luz chegaria até nós. Estrelas há muito extintas, muito mais velhas que a mais velha das estrelas conhecidas, nos brindariam com sua luz ainda hoje. E, portanto, estaríamos recebendo luz de todos os pontos de nosso céu. A noite seria clara como o dia. Mas isso não acontece. Este argumento é conhecido como paradoxo de Olbers, em homenagem ao astrônomo alemão Heinrich Olbers, o primeiro a ponderar sobre o assunto em 1823. Ele nos leva, por simples caminhos lógicos, a cogitar que o Universo teve um início, não existiu desde sempre.
Junte-se a este fato a descoberta de Edwin Hubble, sobre o afastamento das galáxias, e podemos começar a imaginar como teria sido esta origem. O início teria se dado em uma região bastante limitada, que se expandiu e se expande até os dias de hoje. Mas o que está se expandindo, afinal? Os componentes do Universo ou o Universo em si? A sutil diferença entre um caso e outro é que, no primeiro caso, estaremos admitindo um Universo vazio como palco dos acontecimentos astronômicos. Um vácuo infinito que, a partir de uma região densamente preenchida não se sabe como, serviu de cenário para a expansão de seus componentes. A segunda hipótese é mais plausível, apesar de (ou por causa de) sua maior complexidade. O Universo em si se expande, levando consigo seus constituintes. Assim, no início, o Universo era algo muito pequeno e denso.
Finito e Ilimitado
Então o Universo teve um início. Se teve início, deve ser finito. Sim, pois admitir que algo que foi criado possa ser infinito remete ao problema anterior: a expansão dos componentes sobre um Universo vazio. Precisaríamos admitir a hipótese da criação de matéria a partir de nada. E, mais uma vez, se assim fosse, não precisaríamos arbitrar um início ao Universo, além de termos que reformular todas as teorias de formação estelar. (No início da Cosmologia, postulou-se a tese do Universo estacionário, que se expandia mas via-se preenchido por novos componentes, criados do vácuo, que serviam para manter-lhe a densidade constante. Novamente, esbarramos no estranho conceito da criação espontânea de matéria.)
O Universo é finito. Mas, por sua própria definição, não pode ter limite. A teoria de expansão comumente nos impõe uma idéia de explosão, popularizada pelo termo Big Bang, “Grande Bum”. (Geralmente, o termo Big Bang é traduzido como “grande explosão”. Mas se levarmos em conta que foi cunhado em 1948, pelo astrônomo inglês Fred Hoyle, como uma troça à recém-lançada teoria de criação e evolução do Universo, vemos que “grande bum” faz maior justiça ao seu significado histórico.) E a esta explosão geralmente se seguem imagens apoteóticas de uma bola de energia se expandindo com velocidade, sendo seu interior o Universo, e seu exterior o Nada, esperando o momento de criação.
E se pudéssemos viajar a velocidades sequer imaginadas? Qualquer direção que tomássemos nos levaria, cedo ou tarde, a esta fronteira entre o Universo já feito e o “Universo em potencial”. E se atravessássemos este limite? Morreríamos, é claro, entrando na não-existência. Mas morreríamos sabendo que existe algo, um nada absoluto, além do Universo. O que conflita com nossa primeira definição. Então, não pode existir esta fronteira. O Universo não pode ter um limite.
O Universo é finito e ilimitado. Não é uma contradição? Não. Tomemos a superfície da Terra como exemplo. Ela é finita, obviamente. Se considerarmos um raio médio de 6.400km para o nosso planeta, sua superfície teria 515.000.000km², ignorando-se as inomogeneidades de morros, montanhas, vales e depressões. Tem um tamanho mensurável. É finita. Porém, é ilimitada. Caminhando-se por sobre ela, jamais encontraremos uma fronteira que nos force a abandoná-la. Não há limite. Assim como no Universo.
Há, porém, uma sutil diferença. Na superfície da Terra, temos apenas dois graus de liberdade. Atingimos qualquer ponto se combinarmos sucessivos movimentos do tipo “norte-sul” e “leste-oeste”. Ou, ainda, qualquer ponto nela será inequivocamente caracterizado através de duas grandezas, duas quantidades, dois valores: latitude e longitude. Dizemos que a superfície da Terra tem duas dimensões. (Em nossa linguagem coloquial, uma superfície sempre tem duas dimensões. É isso que a define como tal, diferenciando-a de uma linha, uma dimensão, ou sólido, três dimensões. Em Cosmologia, este conceito é mais amplo.)
Por ter apenas duas dimensões, é fácil vê-la “fechada”, isto é, finita e ilimitada. Basta imaginá-la inserida em um espaço de três dimensões. De fato, nem imaginar precisamos, pois todos sabemos que a Terra realmente flutua no espaço e que este possui três dimensões (para caracterizarmos um ponto específico da órbita de um satélite precisamos de três quantidades, por exemplo a latitude e a longitude de um ponto na Terra acrescidas da altitude em que o satélite se encontra acima deste ponto). Mas como imaginar um espaço de três dimensões finito e ilimitado, fechado em torno de si mesmo? Basta imaginá-lo curvando-se em direção a uma quarta dimensão!
A Quarta Dimensão
O que é a quarta dimensão? Alguns mais afoitos podem dizer que é o tempo, e não estariam errados. Mas lembre-se de que a Terra existe no tempo, fazendo de sua superfície algo tridimensional (se quisermos encontrar um navio, devemos saber sua latitude, longitude e a que horas foram calculadas), assim como o espaço passa a ter quatro dimensões (precisamos saber a que horas o satélite passará por sobre o determinado ponto da Terra), também chamado de espaço-tempo. Assim, vemos que o tempo não é a dimensão que precisamos. Precisamos de uma dimensão puramente espacial, como as três que já conhecemos. Ou não.
Veja bem, o Universo precisa curvar-se em uma direção que não é nenhuma das três que conhecemos (basicamente “direita-esquerda”, “frente-trás” e “em cima-embaixo”). O que não quer dizer que esta dimensão exista de fato (a discussão sobre sua existência chega a ser esotérica, pois nosso cérebro tridimensional não chega sequer a compreendê-la, quanto mais visualizá-la, sendo-nos relegado apenas o artifício das comparações como esta que estou fazendo: uma superfície fechada de duas dimensões precisa de uma terceira para existir, assim como uma de três precisa de uma quarta). Esta quarta dimensão pode ser apenas um artifício topológico (Topologia é a ciência que estuda a forma dos espaços matemáticos. Pode ser vista como uma interface entre a Cosmologia, puramente preocupada com a física dos fatos astronômicos, e a Geometria Diferencial, ramo da Matemática que estuda em detalhe estes espaços).
O que é um artifício topológico? Imagine uma daquelas telas de computador (ou televisão ou um daqueles telões publicitários) onde vemos uma mensagem constante, atravessando-a transversalmente. “Viva a vida”, digamos. O primeiro “V” aparece à direita do monitor, vão aparecendo as outras letras, a frase passeia por toda a tela e começa a morrer na extremidade oposta. Quando o último “a” já se está indo, vemos novamente o “V” surgir do lado direito. A tela tem duas dimensões, e a frase só reaparece do lado direito porque um programa interno identifica as extremidades.
Uma pessoa que nunca tivesse visto uma televisão poderia imaginar que ali dentro estava um cilindro com a inscrição “Viva a vida”. Ao girar, este cilindro faria a frase sumir de um lado da tela e reaparecer, logo depois, do lado oposto. Sendo o lado de um cilindro uma superfície bidimensional fechada, já sabemos que ele só pode existir em três dimensões. Assim, podemos explicar o que acontece em nossa tela admitindo a existência, de fato, de uma dimensão mais elevada, no caso, a terceira (o cilindro). Ou podemos utilizar um artifício topológico (a terceira dimensão não existe, na tela, mas suas extremidades estão identificadas entre si, de modo que o que desaparece de um lado aparecerá do outro).
Agora podemos entender porque a quarta dimensão não precisa existir, apesar de ser fundamental para a compreensão de um Universo finito e ilimitado. E podemos entender, também, para onde se dá a expansão do Universo. Pois se a lei de Hubble nos garante que todas as galáxias estão se afastando, sempre poderíamos atribuir este movimento a uma velocidade intrínseca a cada uma delas. “Elas se afastam porque estão vagando pelo Universo, e o fato de que nossa galáxia parece ser o ponto do qual todas fogem, o centro, apenas prova nossa importância no Universo.” Quanta presunção.
Imagine um balão de gás com pequenos botões costurados à sua superfície. Esta superfície é o Universo em questão e os botões nela contidos são as galáxias. Ao inflarmos o balão, o Universo se expande. Os botões, apesar de imóveis, ficam cada vez mais longe entre si. E cada botão vê todos os outros se afastando, julgando-se o centro deste Universo. Mas para nós, criaturas de três dimensões, é muito simples perceber verdades obscuras deste universo bidimensional. Seu centro se encontra dentro do balão (fora do Universo, então, que é só a superfície). E sua expansão se dá rumo à terceira dimensão. Assim, no Universo, todas as galáxias se vêem afastando-se umas das outras, quando na verdade todas estão imóveis (há um movimento próprio e individual, é verdade, mas ele não ofusca este afastamento geral).
O centro do Universo está fora dele, e aqui precisamos ter cuidado para não cairmos vítimas de nossas próprias armadilhas. Ao fazermos tal declaração, não estaríamos admitindo algo (um ponto hipotético que seja) além do Universo, destruindo a premissa de que tudo o que existe faz parte dele? Não necessariamente. Voltemos ao universo do balão de gás (já que só podemos tratar a quarta dimensão através de analogias). Ele é, por nossa própria definição, bidimensional. Tudo o que existe em sua superfície já faz parte dele, sendo conhecido ou não por seus eventuais habitantes. Mas o centro está na terceira dimensão, que a priori não faz parte do universo. Assim, se admitirmos que o centro do Universo se localiza na quarta dimensão, ela existindo ou não, não estamos ferindo nossas próprias definições iniciais.
A Grande Explosão
Já sabemos, então, que o Universo é tudo o que existe. É finito, ilimitado e se expande rumo a uma quarta dimensão, que pode ser apenas um artifício topológico. E teve uma origem. É desta origem que queremos tratar, agora.
Retroagindo a expansão, chegamos a um Universo diminuto, extremamente denso e quente. Muito quente. Sua enorme temperatura sugere uma estrutura bastante mais simples do que a atual. Na pior das hipóteses, podemos imaginar que todas as estruturas atômicas que hoje conhecemos não existiam, restando um caldo caótico de partículas elementares. Mas a desestruturação do Universo ia mais além: a própria energia se confundia com a matéria, coisa que não observamos nos dias de hoje. Em nossos tempos, matéria é matéria e energia é energia, embora ambas se relacionem através da famosa fórmula E=mc² , onde E é a energia, m é a massa e c é a velocidade da luz. Assim, no Universo jovem, matéria e energia comportavam-se quase que como uma única entidade.
Normalmente, a equação descrita acima, devida a Einstein, mostra como transformar massa em energia, fato presenciado nos dias atuais (a própria energia vem da matéria, através de reações atômicas). Mas no início do Universo, ocorria o inverso, pela simples razão de que o “aspecto” energia desta estranha entidade mista predominava: criava-se matéria a partir da energia. A súbita criação deste novo constituinte provocou uma expansão violenta: o Big Bang.
Um detalhe curioso deste processo é que a matéria sempre surge em pares de partículas opostas (nos laboratórios modernos faz-se o inverso: partículas opostas são juntadas, aniquilando-se e, no processo, gerando energia). Algumas partículas são conhecidas por muitos, por exemplo o elétron e o próton. Suas partículas opostas possuem massa de igual valor, mas carga elétrica trocada. Assim, a partícula oposta ao elétron é o antielétron, ou pósitron (previsto teoricamente em 1930, descoberto em 1932). O próton é aniquilado pelo antipróton e assim por diante. Estas partículas opostas formam o que se convencionou chamar de antimatéria. O fato de não a encontrarmos hoje livre na natureza não afeta sua plausibilidade, apesar de ser um calcanhar de Aquiles no modelo do Big Bang como foi inicialmente proposto (afinal, ele previa a criação de uma quantidade exatamente igual de matéria e antimatéria). Talvez existam regiões de antimatéria em nosso Universo (ou “universos de antimatéria” como gostam os mais alarmistas). A fronteira entre uma região e outra seria uma apoteótica aniquilação constante, uma eterna guerra pela existência. Estranhamente, nada disso foi sequer detectado.
Mas o Universo não começou aqui. Se voltarmos no tempo ainda mais, poderemos vislumbrar fenômenos ainda mais peculiares. (Lembre-se: estamos trilhando o caminho que fizeram os cosmólogos, partindo do Universo atual e voltando no tempo. A compressão e o decorrente aumento de temperatura já resultou em um caldo de matéria-energia. É natural que uma maior compressão resulte em fenômenos ainda mais estranhos, só obtidos teoricamente através de respostas a equações matemáticas – nunca de experimentos de laboratório.) Antes do Big Bang, mas agora já estamos no limiar do início de todas as coisas – um microssegundo após a origem do próprio espaço-tempo -, houve um período denominado de inflação.
Antes do Antes
O modelo teórico do Universo inflacionário, que vem complementar e atualizar a teoria do Big Bang, nos diz que num período de tempo absolutamente ínfimo, o Universo cresceu numa escala impressionante. Seria como se um ponto, o ponto final desta frase, atingisse o tamanho do grupo local de galáxias em menos de um piscar de olhos (este sim seria um Big Bang, mas por não haver matéria neste Universo primitivo, não se associa esta violenta expansão a uma explosão).
A inflação explica a assimetria entre matéria e antimatéria (o que é fundamental ao menos para começar o processo de expansão, pois no modelo do Big Bang não se conseguia explicar porque as partículas e antipartículas deixavam de se aniquilar para provocar a grande explosão). Como este modelo está baseado no que se chama de Teoria da Grande Unificação (GUT, da sigla em inglês), ele pressupõe uma equivalência entre as quatro forças existentes no Universo: gravitacional, eletromagnética, fraca e forte (estas duas últimas atuam nos núcleos dos átomos). E quando dizemos equivalência não queremos dizer que uma tem o mesmo valor do que a outra. Uma é exatamente a outra, não há diferença entre elas (a mais famosa unificação se deu entre a força elétrica e a força magnética, aparentemente distintas mas provenientes da mesma fonte). Nesta escala de tamanho, algo inacreditavelmente pequeno, estas forças são uma só, que é regida pela Mecânica Quântica. E flutuações quânticas no meio – uma densa sopa de energia-matéria conhecida por falso vácuo – poderiam provocar a diferença na quantidade de matéria e antimatéria existentes no Universo.
O termo correto para este fenômeno é quebra de simetria, mas há de se ter cuidado, pois esta simetria não se refere ao par matéria-antimatéria. Lembre-se de que estamos estudando os instantes antes do Big Bang. Não há matéria nem antimatéria neste estágio do Universo, apenas um meio permeado por um campo de força (não confundir com o “campo de força” usado em ficção científica. Este aqui é um campo da única força existente, semelhante em aspecto ao campo de força gravitacional que conhecemos tão bem). Esta misteriosa simetria – a palavra em si usada por físicos na falta de um termo melhor – é uma propriedade intrínseca do constituinte básico do Universo (quer em seu aspecto de matéria ou de energia).
E antes da inflação? Não há sentido na pergunta. O Universo, e com ele o espaço e o tempo, começaram ali, com um brevíssimo período de inflação, seguido pelo surgimento da matéria e da antimatéria, pela expansão e conseqüente resfriamento de tudo. Falar de antes da criação do tempo é como falar de algo ao norte do pólo norte. Não faz o menor sentido (apesar de ser muito mais fácil entender a analogia geográfica do que o caso cosmológico).
O Fim do Universo
Se não podemos mais avançar em nosso retorno ao passado, pois ele já não mais existe além deste ponto, vamos nos voltar para a direção oposta: o futuro. Como será o futuro do Universo? Ele vai se expandir indefinidamente? É possível. Este seria o chamado Universo aberto. Se a energia cinética da expansão, positiva, for maior do que a energia de atração gravitacional, negativa, o Universo nunca deixará de crescer. Este é um Universo de energia total positiva (calculada no momento do Big Bang ou agora; tanto faz pois ela é constante). Mas este Universo apresentaria uma curvatura negativa, como uma sela de cavalo (na direção longitudinal, ao longo do dorso, a sela se curva para cima. Já na direção transversal, a sela se curva para baixo). E isso o torna infinito, o que conflita com nossas definições anteriores.
Se a energia total do Universo for negativa, temos um Universo fechado, que se expande até um limite para então contrair-se, retornando ao ponto inicial onde tudo teve início. Este Universo apresenta curvatura positiva, como uma superfície esférica, que se curva para o mesmo lado em todas as direções. Pode, portanto, ser finito em tamanho. É este o modelo preferido pelos cosmólogos. Infelizmente, a matéria observada é aproximadamente 25 vezes menor do que o necessário para justificá-lo. Introduziu-se, então, a matéria escura, que nada mais é que uma espécie de matéria que não emite radiação em nenhum comprimento de onda. Esta matéria, predominante no Universo, seria a principal responsável pelo seu fechamento.
O que aconteceria após o colapso total do Universo é exatamente o que aconteceu antes de sua criação. Se é que este colapso é total. Do mesmo modo que só postulamos a teoria da inflação a partir de um tempo ínfimo, podemos parar o colapso um instante antes do fim. E por que não, a partir daí, considerar o recomeço de tudo? Uma nova inflação seguida, novamente, por um Big Bang. Muitos físicos privilegiam esta visão, o Universo oscilante, por motivos filosóficos. Ela escapa do conceito de uma criação original, fugindo habilmente da figura do criador (ou, se preferir, Criador).
Conclusão
Temos um modelo de Universo fechado, gravitacionalmente amarrado por matéria (escura ou não), finito e ilimitado que se expande. Seus limites temporais, início e fim, são muito semelhantes. Não há sentido em ir além de um ou outro. Mas lembre-se: isto é um modelo. Um mapeamento teórico. E o mapa nunca é o território em si.